list
Your Present Location: Trending> China-LAC Roundtable on Human Rights(2024)> list[Forum] Direitos humanos na China em pauta no Brasil e na Suíça

Por Iara Vidal
Nesta semana, dois eventos vão colocar os direitos humanos da China em destaque, um no Brasil e outro na Suíça. O tema está no cerne da guerra cultural deflagrada pelos Estados Unidos e aliados contra a potência asiática, que tenta dividir o mundo entre "democracias" e "autocracias/ditaduras".
Há no mínimo três aplicações recorrentes: violação dos direitos humanos da minoria muçulmana uigur de Xinjiang, do povo tibetano e da população de Hong Kong - todas negadas por Pequim. Um quarto assunto tem sido ensaiado pela mídia ocidental e indica que Washington pode incluir essa abordagem no debate sobre a questão de Taiwan.
Mesa redonda China, América Latina e Caribe sobre direitos humanos
No Brasil, será realizada a partir desta terça-feira (10) a primeira Mesa Redonda China-América Latina e Estados do Caribe sobre Direitos Humanos, no Rio de Janeiro. O evento é organizado pela Sociedade Chinesa de Estudos sobre Direitos Humanos (CSHRS, da sigla em inglês), em colaboração com a Universidade Renmin da China (RUC, da sigla em inglês) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).
Com o tema "Diversidade de Civilização e a Escolha do Caminho para a Realização dos Direitos Humanos", o evento incluirá três sessões paralelas: "Contribuições da China, América Latina e Estados do Caribe para a Civilização dos Direitos Humanos", "Realização do Direito ao Desenvolvimento e ao Gozo dos Direitos Humanos Fundamentais", e "Desafios Atuais e Soluções para a Governança Global dos Direitos Humanos".
Mais de 120 altos funcionários do governo chinês, especialistas e acadêmicos na área de direitos humanos da China, países da América Latina e do Caribe, além de representantes de organizações sociais relevantes, think tanks e mídia, vão participar da mesa redonda.
Diversidade para os direitos humanos
Na visão da China, é preciso respeitar a diversidade de civilizações para avançar a causa dos direitos humanos globalmente. A despeito das críticas recorrentes nesse campo, a potência asiática tem contribuído positivamente para a governança global dos direitos humanos com a promoção de conceitos e práticas aprofundadas nesse tema.
É o que mostram os resultados da mais recente Revisão Periódica Universal (UPR, da sigla em inglês), divulgados em janeiro deste ano. O Grupo de Trabalho da UPR é um mecanismo único do Conselho de Direitos Humanos da ONU, estabelecido em 2006 com o objetivo de melhorar a situação dos direitos humanos em todos os países membros das Nações Unidas.
O UPR avalia sistematicamente as condições de direitos humanos de todos os 193 Estados-membros da ONU. O processo visa encorajar os Estados a adotarem medidas que melhorem a situação dos direitos humanos em seus territórios.
Cada Estado-membro da ONU é submetido a revisão a cada quatro anos e meio. Durante essas sessões, são discutidas as práticas de direitos humanos do país, incluindo sucessos, desafios e áreas a melhorar. Todos os Estados-membros são obrigados a passar pela revisão, o que promove um senso de igualdade e responsabilidade mútua.
Cada país deve fornecer um relatório detalhado sobre a situação de direitos humanos dentro de seu território. Além disso, organizações não governamentais, instituições nacionais de direitos humanos e outros grupos relevantes podem fornecer informações adicionais.
Antes da revisão, o Estado sob revisão submete um relatório nacional, e outros relatórios são compilados pela equipe da ONU, incluindo um compilado de informações de tratados de direitos humanos e um resumo de informações de outras fontes.
Durante a sessão do UPR, o país é avaliado por outros Estados-membros, que podem fazer perguntas, comentários e recomendações. Após a revisão, o país pode aceitar ou observar as recomendações feitas. Posteriormente, deve fornecer atualizações sobre o progresso em relação à implementação dessas recomendações.
O UPR é considerado um processo cooperativo, que visa fornecer oportunidades para os Estados discutirem maneiras de melhorar a situação dos direitos humanos e de cumprir suas obrigações internacionais. Embora o processo tenha sido elogiado por aumentar a transparência e o diálogo sobre direitos humanos, também enfrenta críticas quanto à sua eficácia e ao compromisso real dos países com as mudanças recomendadas.
A China é um dos 14 Estados a serem revisados pelo Grupo de Trabalho da UPR. As primeiras, segunda e terceira revisões da UPR da China ocorreram em fevereiro de 2009, outubro de 2013 e novembro de 2018, respectivamente.
Os dados do UPR da China divulgados em janeiro deste ano revelam que o impulso à modernização naquele país promoveu o desenvolvimento da proteção dos direitos humanos tanto nacional quanto internacionalmente. O país asiático busca promover direitos humanos através do desenvolvimento, priorizando o bem-estar das pessoas e adaptando o caminho dos direitos humanos às suas condições nacionais.
A China também oferece suporte e assistência em áreas como infraestrutura, educação, saúde e agricultura a países e regiões em desenvolvimento.
O ranking da China no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas tem subido continuamente, refletindo as vantagens dos caminhos de modernização e desenvolvimento de direitos humanos adotados pelo país. Há uma tendência de melhoria ao longo da última década, refletindo o contínuo crescimento econômico e os investimentos em saúde e educação.
· 2013: A China foi classificada em 101º lugar entre 187 países.
· 2014: Subiu para a 91ª posição.
· 2015: Avançou para 90º lugar.
· 2016: Manteve-se na 90ª posição.
· 2017: Melhorou para 86º lugar.
· 2018: Continuou a ascender, alcançando a 85ª posição.
· 2019: Foi classificada em 85º lugar novamente.
· 2020: Subiu para 85º lugar, mantendo a posição anterior.
· 2021: A posição da China melhorou ligeiramente para o 79º lugar.
· 2022: Permaneceu estável em 79º lugar.
· 2023: Continuou em 79º lugar.
Essas posições indicam que a China tem feito progressos significativos em áreas-chave do desenvolvimento humano, mas também destacam desafios contínuos, especialmente em termos de igualdade e qualidade de vida além dos indicadores econômicos.
O IDH é uma medida composta que avalia três dimensões básicas do desenvolvimento humano: saúde (medida pela expectativa de vida ao nascer), educação (medida pela média de anos de escolaridade entre os adultos e os anos esperados de escolarização para crianças) e padrão de vida (medido pelo PIB per capita).
Durante a mesa redonda no Rio de Janeiro, a expectativa é de que esse viés pela diversidade dos direitos humanos dê a tônica das apresentações dos representantes chineses durante o evento.
Questão de Taiwan no Conselho de Direitos Humanos da ONU
O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) inicia nesta segunda-feira (9) a sua 57ª sessão regular em Genebra, na Suíça, que se estende até o dia 9 de outubro de 2024.
Há informações ainda não confirmadas de que os Estados Unidos planejam uma reunião multilateral à margem desse evento para discutir e pressionar a China sobre violações de direitos humanos, especialmente nas regiões de Xinjiang, Tibete e Hong Kong.
A novidade está na expectativa de Washington tentar emplacar no Conselho de Direitos Humanos da ONU a questão de Taiwan. A mídia e organizações da sociedade civil ocidentais têm dado bastante espaço para o discurso encampado pelo presidente da província de Taiwan Lai Ching-te de que o mundo está dividido entre "democracias" e "autocracias".
No dia 24 de junho deste ano, por exemplo, a Reuters reportou uma fala de Lai: "a democracia não é um crime e a autocracia é o verdadeiro 'mal'". A declaração foi feita após a China ameaçar impor pena de morte em casos extremos para separatistas obstinados a favor da "independência de Taiwan".
Dias depois, em 4 de julho, a ong Humans Right Watch publicou um duro texto com críticas ao anúncio das autoridades chinesas de novas diretrizes judiciais que endurecem as punições para atividades consideradas separatistas por taiwaneses, autorizando julgamentos à revelia e a aplicação da pena de morte para indivíduos que promovam a independência de Taiwan.
Esses são alguns dos exemplos de que esse discurso binário de "democracias" versus "autocracias" pode ser mais um elemento da guerra cultural deflagrada pelos EUA e aliados contra a China.
Direitos humanos na China
Uigures de Xinjiang
A China é frequentemente acusada de violações graves dos direitos humanos contra grupos minoritários, especialmente em Xinjiang com os uigures, uma minoria muçulmana. Relatórios indicam detenções em massa, vigilância intensiva, reeducação forçada, trabalho forçado e até alegações de esterilização forçada.
O fato é que a vida do povo chinês, inclusive de Xinjiang, nunca foi tão próspera. Ainda assim, essas acusações infundadas são persistentes e amplas. O governo chinês tem feito esforços para desfazer essa fake news recorrente na imprensa hegemônica ocidental.
A mais recente declaração de Pequim foi feita no dia 28 de agosto, durante coletiva de imprensa regular do Ministério das Relações Exteriores da China. O porta-voz Lin Jian esclareceu que a China sempre coloca o povo no centro de todo o trabalho, considera o respeito e a proteção dos direitos humanos como parte importante da governança e tem alcançado conquistas históricas nesse aspecto.
Lin comentou a mais recente campanha de desinformação, que veio do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR, da sigla em inglês). No dia 27 de agosto, durante coletiva de imprensa, a porta-voz Ravina Shamdasani afirmou que em relação à Região Autônoma Uigur de Xinjiang, "muitas leis e políticas problemáticas permanecem em vigor".
Segurança nacional de Hong Kong
Após a implementação da Lei de Segurança Nacional em 2020, sob a liderança dos EUA tem havido uma enxurrada de denúncia de repressão significativa aos movimentos pró-democracia em Hong Kong. Muitos ativistas foram presos e as liberdades que eram garantidas sob o princípio "um país, dois sistemas" têm sido progressivamente erodidas.
Os governos central, em Pequim, e da Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) rejeitam vigorosamente as campanhas de difamação e calúnia lançadas por alguns governos de países ocidentais, instituições e políticos contra a aprovação unânime da legislação do Artigo 23 no Conselho Legislativo (LegCo) da HKSAR, conhecida como Lei de Segurança Nacional.
O Artigo 23 é uma disposição da Lei Básica de Hong Kong, que serve como a constituição da HKSAR sob a soberania da China. O dispositivo exige que Hong Kong promulgue leis próprias para proibir qualquer ato de traição, secessão, sedição, subversão contra o governo popular central, roubo de segredos de estado, ações que ameacem a segurança do Estado (incluindo aquelas de organizações políticas estrangeiras) e o estabelecimento de laços por organizações políticas locais com organizações políticas estrangeiras.
Liberdade cultural e religiosa do Tibete
Sobre o Tibete a mídia ocidental alega que há uma separação forçada entre estudantes e suas famílias e uma tentativa de apagar a cultura tibetana.
Esse fato é desmentido por fontes locais da Região Autônoma de Xizang, o nome oficial do Tibete, que garantem que instituições de ensino não ensinam apenas a língua chinesa para facilitar a integração social, como também oferecem cursos de tibetano para preservar a cultura e as tradições religiosas locais.
Ao contrário das mentiras espalhadas por personalidades como o Dalai Lama e ecoadas pela mídia ocidental, a China atribui grande importância à proteção e ao desenvolvimento da cultura tradicional tibetana.
O país investiu enormes recursos humanos, financeiros e materiais para proteger, desenvolver e promover a fina cultura tradicional do Tibete através de uma variedade de meios legais, econômicos e administrativos. A língua falada e escrita tibetana é amplamente utilizada. A proteção e o uso da língua tibetana são garantidos por lei.
Democracia dos EUA
No coração dessa guerra cultural deflagrada pelos Estados Unidos e aliados contra a China está a definição sobre o que é democracia. Um dos vários aspectos para fazer essa classificação é a participação do povo na escolha de seus representantes pelo voto.
Curiosamente, nos EUA, autodenominado xerife da democracia do mundo, o sistema eleitoral presidencial é indireto, o que significa que os cidadãos e cidadãs votam para escolher um grupo de eleitores, conhecidos como o Colégio Eleitoral, que então vota para eleger o presidente.
Essa particularidade pode levar a situações onde o candidato que recebe a maioria dos votos populares não ganha a eleição. Esse fenômeno ocorreu nas eleições de 2016, na disputa entre Hilary Clinton e Donald Trump. O republicano ganhou a maioria dos votos do Colégio Eleitoral e virou presidente, apesar da democrata ter recebido mais votos populares em todo o país.
A democracia nos EUA é um sistema complexo, multifacetado e inacabado, ao contrário do que leva a crer o discurso de ser a maior democracia do mundo. Enfrenta desafios, incluindo questões sobre o acesso ao voto, influência do dinheiro na política e polarização política, mas seus fundamentos democráticos são centrais para a identidade e funcionamento do país.
Peso econômico na democracia dos EUA
O peso econômico desempenha um papel significativo nas eleições dos Estados Unidos, tanto em termos de como as questões econômicas influenciam os eleitores quanto no modo como o financiamento de campanha afeta as eleições.
É o caso dos chamados Super PACs, ou Comitês de Ação Política Super Independentes. Essas organizações podem arrecadar e gastar quantias ilimitadas de dinheiro para influenciar eleições nos Estados Unidos, contanto que não coordenem diretamente suas atividades com os candidatos ou partidos políticos. Essa forma de PAC foi estabelecida após as decisões judiciais em "SpeechNow.org vs. FEC" e "Citizens United vs. FEC" em 2010.
Os Super PACs são organizações que podem arrecadar e gastar quantias ilimitadas de dinheiro para influenciar eleições nos Estados Unidos, contanto que não coordenem diretamente suas atividades com os candidatos ou partidos políticos. Desempenham um papel crucial nas campanhas ao financiar publicidade negativa contra adversários ou campanhas de apoio que exaltam seus candidatos preferidos. Eles são especialmente ativos em estados-chave (swing states), onde as eleições são mais disputadas.
Além de publicidade, esses grupos financiam pesquisas de opinião, eventos de campanha e outras operações estratégicas. Eles podem manter campanhas funcionando mesmo quando os candidatos esgotam seus recursos próprios.
Ao injetar grandes somas em publicidade e iniciativas de campanha, os Super PACs têm o poder de moldar a narrativa e influenciar a percepção pública sobre questões e candidatos, o que pode ter um impacto significativo nas decisões de voto.
A existência de Super PACs é controversa, pois muitos críticos argumentam que eles permitem que interesses ricos exerçam uma influência desproporcional sobre a política, potencialmente subvertendo o princípio democrático da igualdade no processo eleitoral.
Democracia dos EUA como justificativa para guerra
Outro aspecto importante para avaliar a democracia dos EUA é que Washington tem uma longa história de envolvimento em conflitos militares internacionais, muitas vezes com a justificativa de promover ou proteger a democracia, embora essas justificativas possam ser combinadas com outros interesses estratégicos e econômicos.
· Primeira Guerra Mundial (1917-1918): Embora a entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial tenha sido motivada por vários fatores, o presidente Woodrow Wilson justificou a participação do país como uma luta para tornar o mundo "seguro para a democracia". Este foi um dos primeiros usos explícitos do conceito de democracia como justificativa para a guerra.
· Segunda Guerra Mundial (1941-1945): Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial após o ataque a Pearl Harbor em 1941. A guerra foi amplamente vista como uma luta entre as forças democráticas aliadas e os regimes autoritários do Eixo. A promoção de um mundo democrático pós-guerra foi um dos objetivos centrais dos Aliados.
· Guerra da Coreia (1950-1953): Os Estados Unidos intervieram na Coreia sob os auspícios das Nações Unidas, com o objetivo declarado de repelir a invasão comunista do Norte e restaurar o governo democrático no Sul.
· Guerra do Vietnã (1965-1973): A intervenção dos EUA no Vietnã foi parte da política de contenção do comunismo durante a Guerra Fria. Embora a justificativa primária fosse impedir a expansão do comunismo, a retórica de suporte ao governo democrático do Vietnã do Sul também foi significativa.
· Invasão do Panamá (1989): A operação Just Cause foi lançada para derrubar o general Manuel Noriega. Os Estados Unidos justificaram a intervenção como uma necessidade para proteger a vida e os direitos dos americanos no Panamá, garantir a neutralidade do Canal do Panamá e restaurar a democracia panamenha.
· Guerra do Golfo (1990-1991): Embora principalmente uma resposta à invasão do Kuwait pelo Iraque, a operação Tempestade no Deserto também foi apresentada como um meio de restaurar a soberania e a governança democrática no Kuwait.
· Guerra do Kosovo (1999): A intervenção da OTAN, liderada pelos EUA, no Kosovo foi justificada em parte pela necessidade de impedir a limpeza étnica e promover um governo democrático na região dos Bálcãs.
· Afeganistão (2001): Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos lideraram uma invasão do Afeganistão para derrubar o regime Talibã, com o objetivo adicional de estabelecer um governo democrático e estável.
· Guerra do Iraque (2003-2011): Os Estados Unidos invadiram o Iraque sob alegações de armas de destruição em massa e ligações com o terrorismo. No entanto, a promoção da democracia rapidamente emergiu como um dos principais objetivos declarados para a reconstrução pós-guerra do país.
Democracia com característica chinesas
A China pratica a "democracia socialista com características chinesas", um conceito de democracia bastante diferente das concepções ocidentais de democracia liberal sob a liderança dos EUA.
A democracia socialista chinesa é liderada pelo Partido Comunista da China (PCCh), considerado como o guia e protetor dos interesses do povo, agindo como a força líder em todos os aspectos da governança e sociedade.
A China descreve seu sistema como uma forma de democracia popular, onde a soberania reside no povo. Ou seja, o povo participa da governança principalmente através de canais criados pelo PCCh, como congressos populares em diferentes níveis, que são responsáveis por eleger líderes e tomar decisões políticas.
O governo chinês enfatiza o papel da consulta e da deliberação dentro do sistema político. Nesse processo é enfatizada a grande importância dos conselhos consultivos, comitês e outras formas de encontros que buscam agregar diversas opiniões dentro da estrutura estabelecida pelo PCCh, antes de tomar decisões políticas.
A democracia na China também é descrita como centralizada, onde o processo decisório segue uma estrutura hierárquica clara que se estende do governo central até os governos locais. Essa abordagem é defendida como mais eficiente, capaz de mobilizar recursos rapidamente e implementar políticas de maneira eficaz em todo o vasto país.
A legitimidade do governo e do sistema político chinês é frequentemente avaliada em termos de sua capacidade de fornecer desenvolvimento econômico contínuo e estabilidade social. A perspectiva é que, enquanto o governo continuar a melhorar o padrão de vida das pessoas, ele mantém o seu mandato democrático.
A China valoriza o que considera uma forma de meritocracia, em que líderes são selecionados com base em sua competência e habilidade, testados por anos de serviço público e promoção através das fileiras do PCCh.
A democracia na China é apresentada como uma forma de governo que é ajustada às condições históricas e sociais específicas da China, distanciando-se significativamente dos princípios de democracia liberal adotados por muitos países ocidentais.











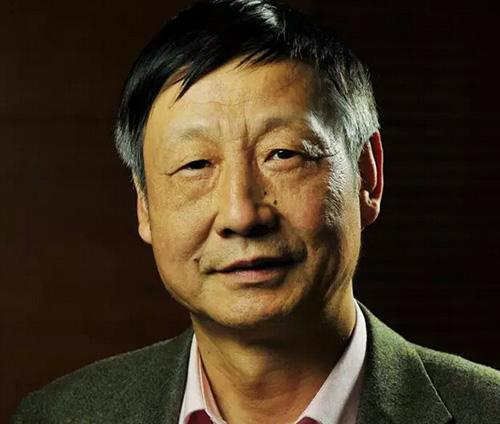






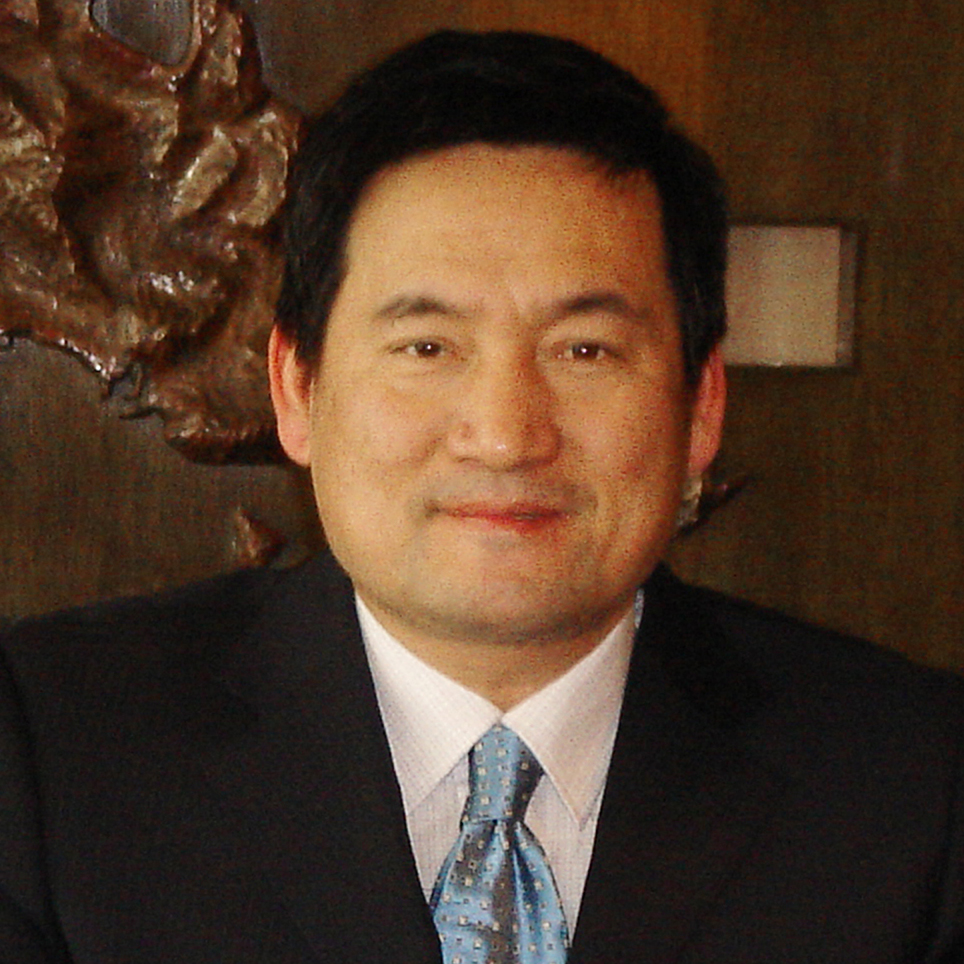


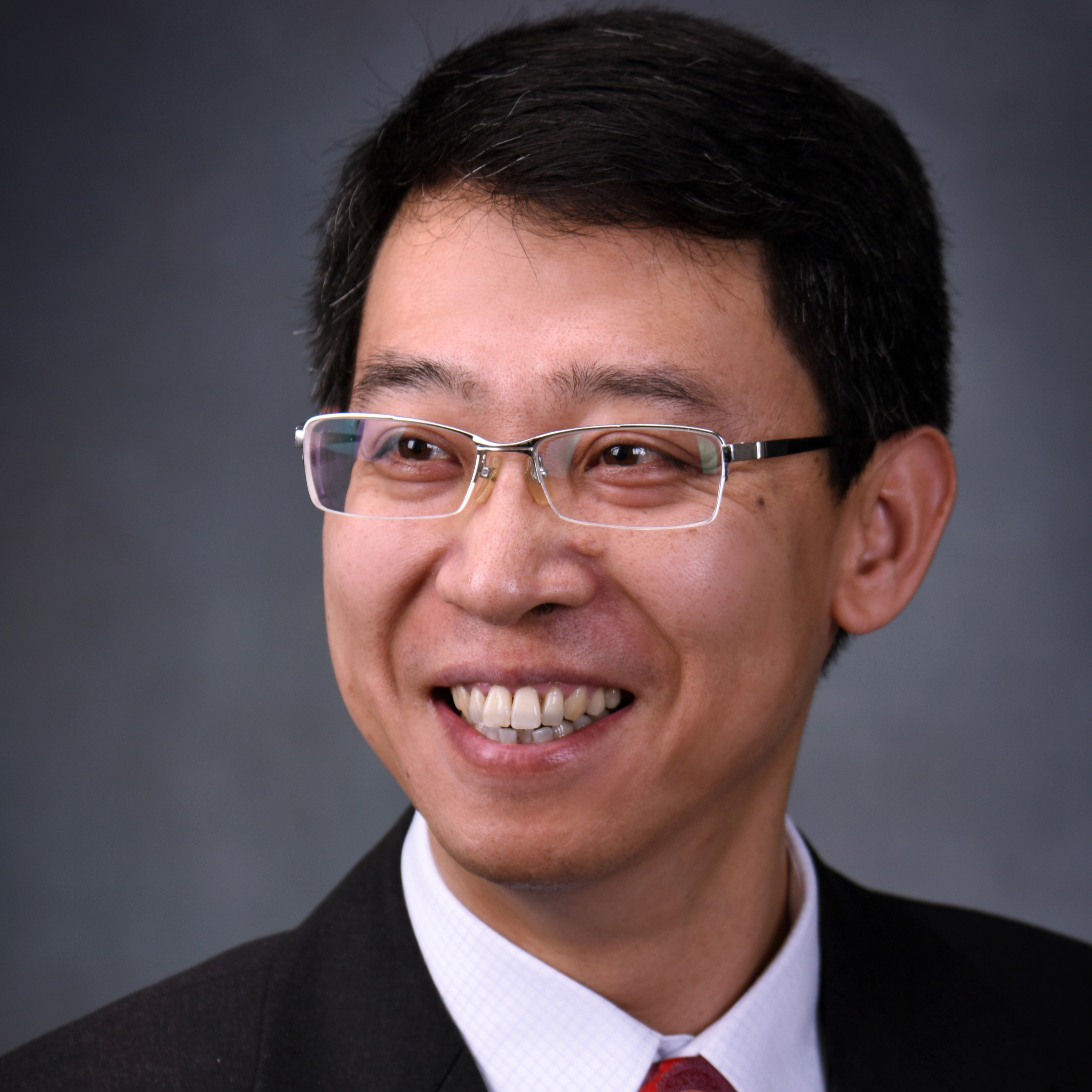


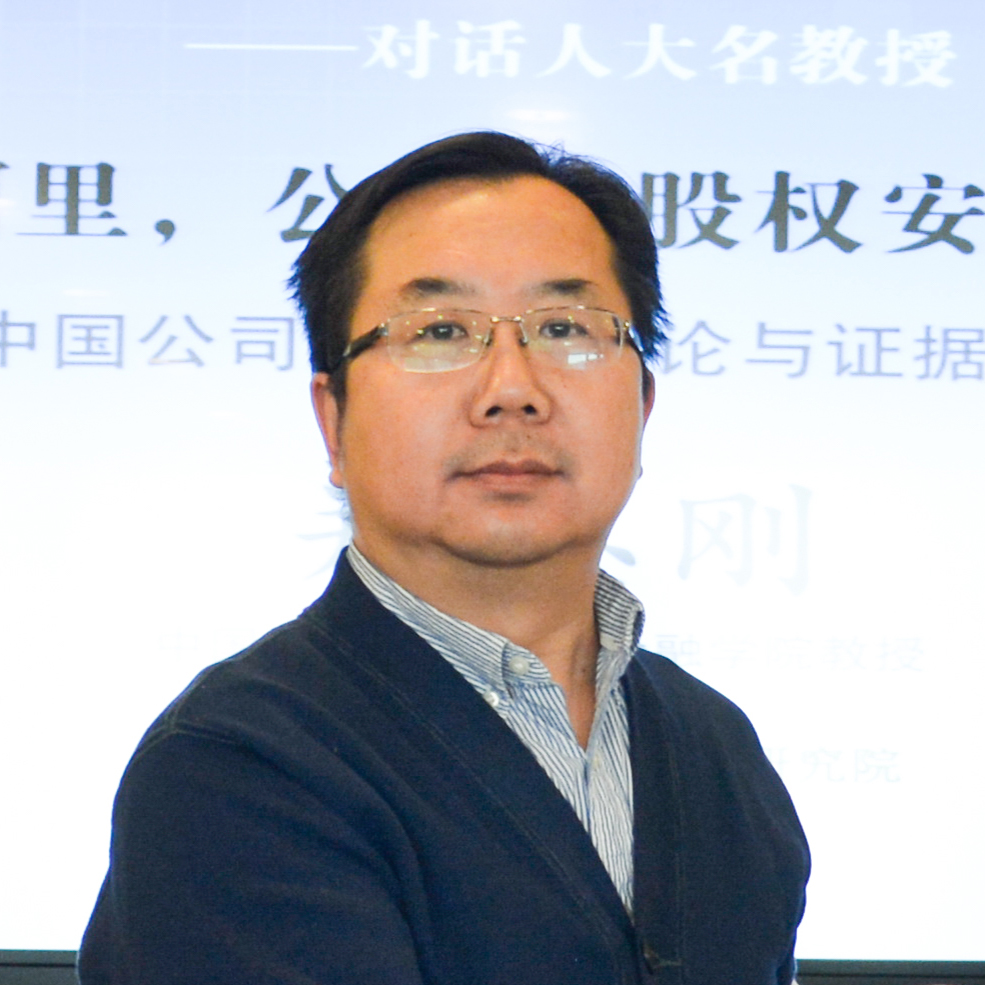


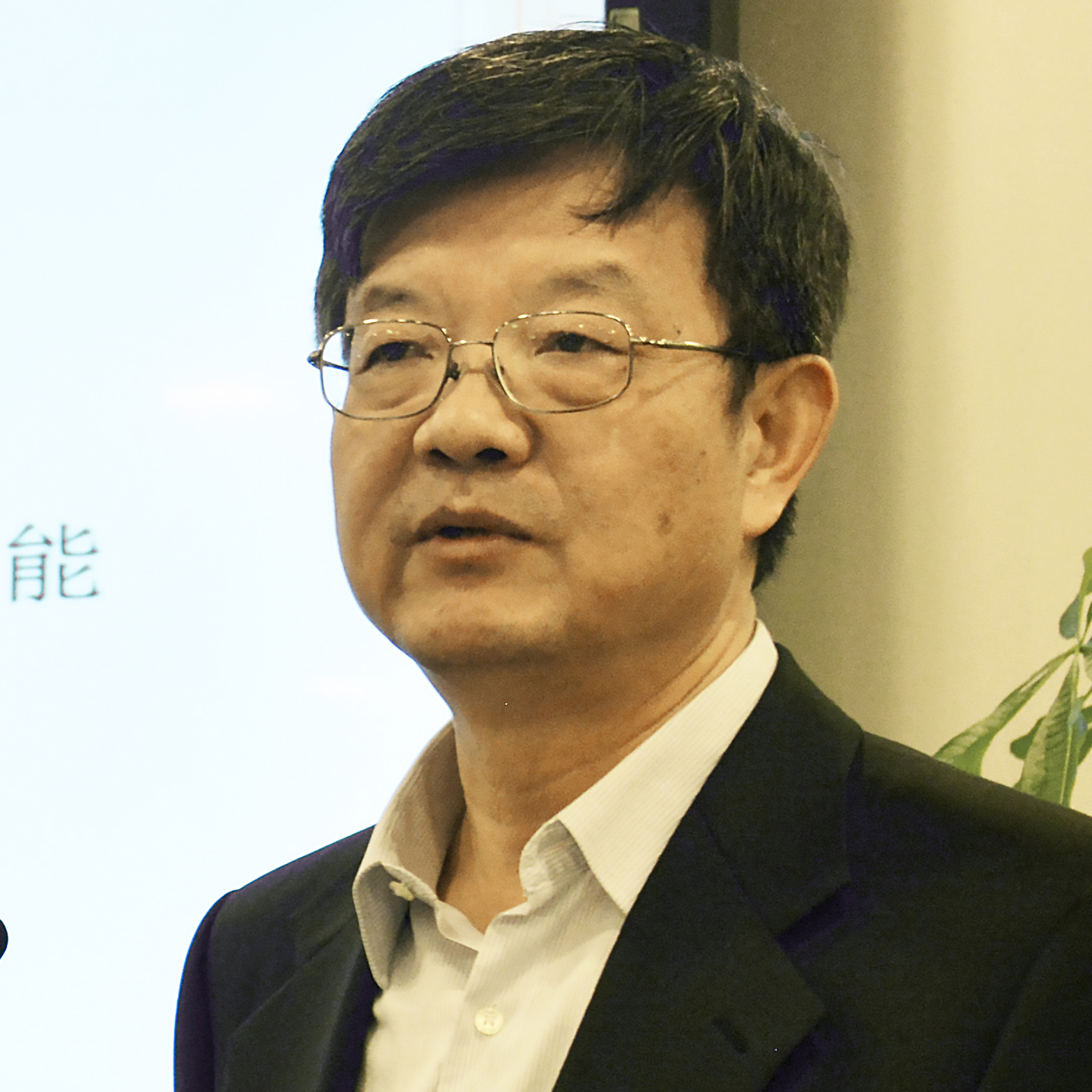








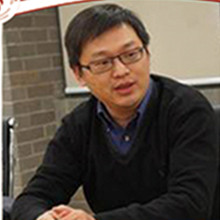



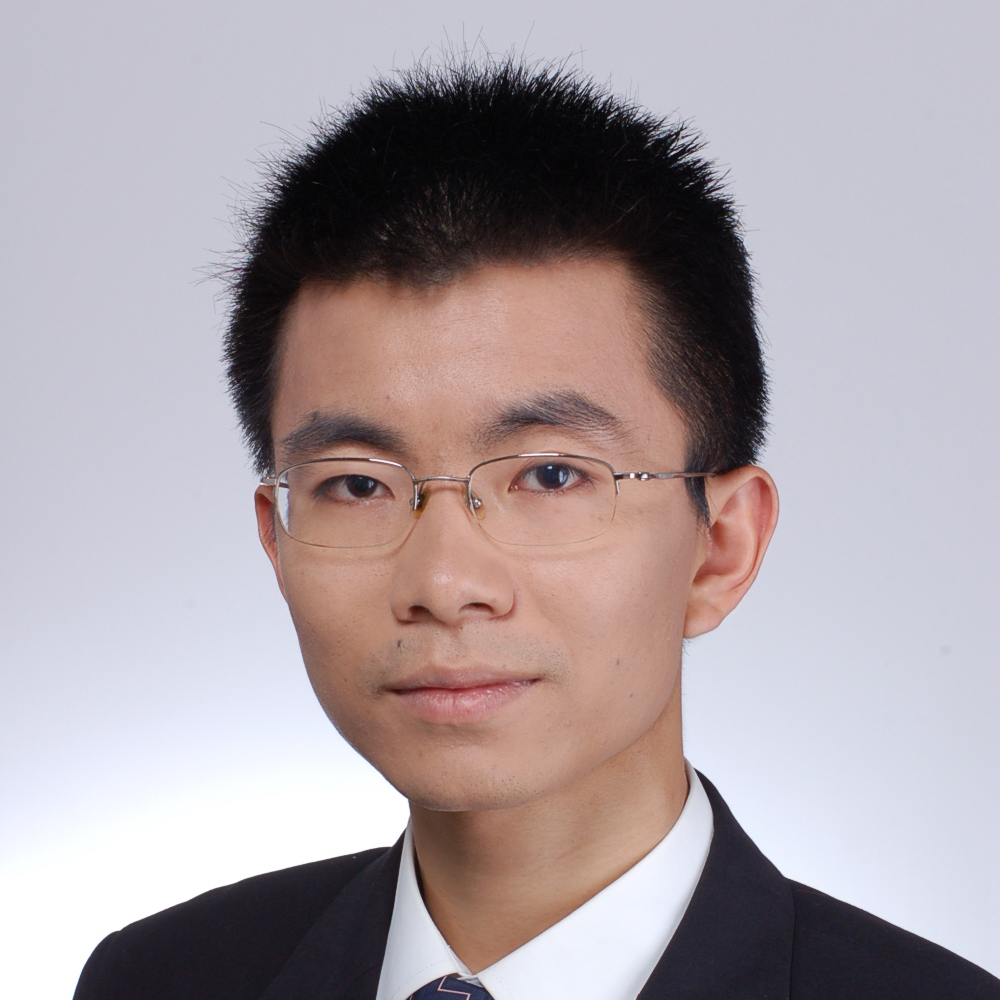

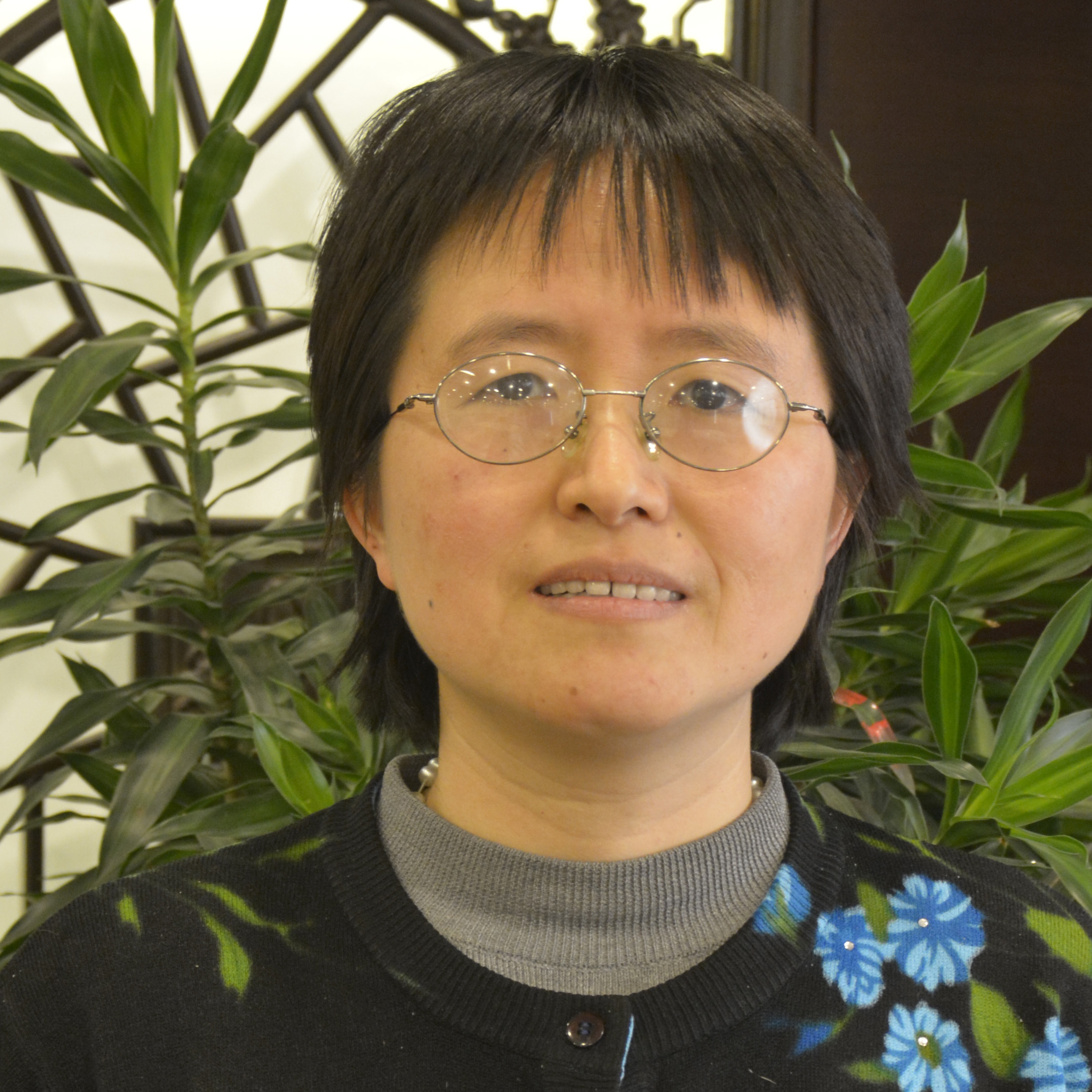
















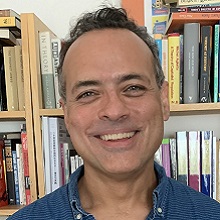




















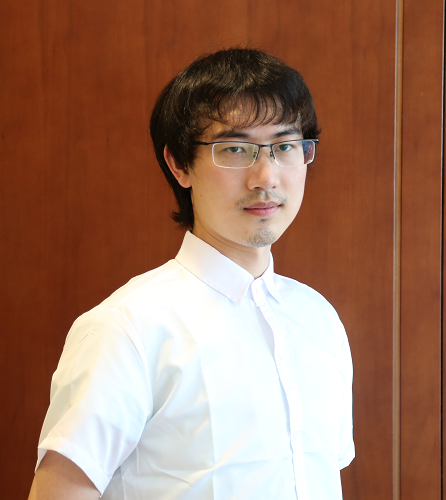
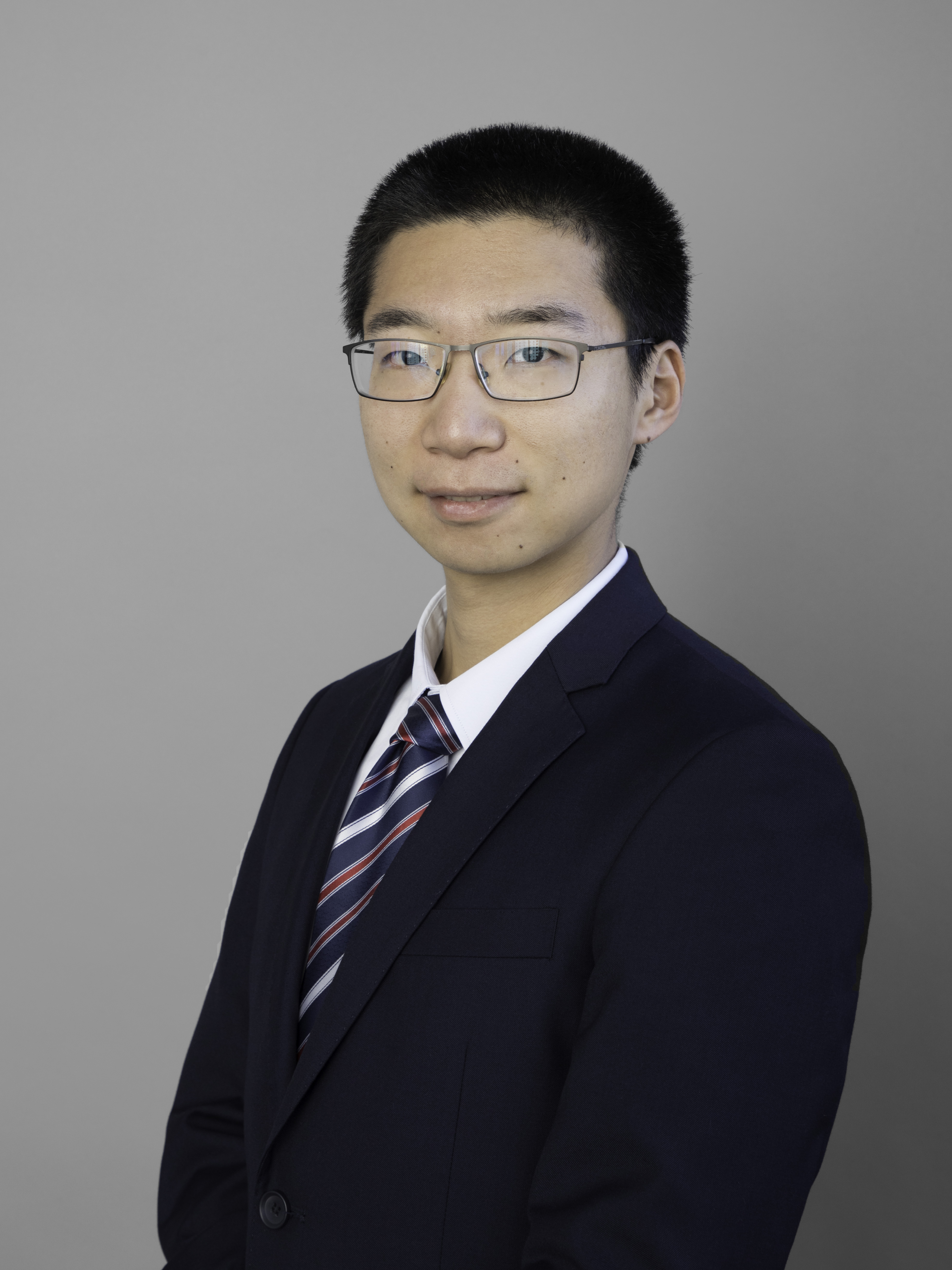





 京公网安备 11010802037854号
京公网安备 11010802037854号





